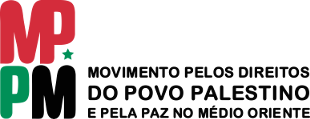«A Manhã Seguinte», por Edward Said
No 15.º aniversário do falecimento de Edward Said, o MPPM divulga este artigo, publicado logo após a assinatura dos Acordos de Oslo em 1993, em que o grande intelectual palestino faz uma análise muito crítica daqueles acordos. Agora que parte da euforia já se foi, é possível reexaminar o acordo entre Israel e a OLP com o bom senso exigido. O que emerge de tal escrutínio é um acordo que é mais defeituoso e, para a maioria do povo palestino, mais desfavoravelmente desequilibrado do que muitos inicialmente supunham. As vulgaridades, dignas de uma exibição de moda, da cerimónia na Casa Branca, o espectáculo degradante de Yasser Arafat agradecendo a todos pela suspensão da maioria dos direitos do seu povo e a solenidade tola do desempenho de Bill Clinton, como um imperador romano do século XX pastoreando dois reis vassalos pelos rituais de reconciliação e obediência: tudo isso apenas temporariamente oculta as proporções verdadeiramente assombrosas da capitulação palestina.Então, primeiro que tudo, vamos dar ao acordo o seu verdadeiro nome: um instrumento de rendição palestina, um Versalhes palestino. O que piora as coisas é que, pelo menos durante os últimos quinze anos, a OLP poderia ter negociado um arranjo melhor do que este Plano Allon modificado, um arranjo que não exigisse tantas concessões unilaterais a Israel. Por razões que a liderança melhor conhecerá, recusou todas as aberturas anteriores. Para dar um exemplo de que tenho conhecimento pessoal: no final dos anos setenta, o secretário de Estado Cyrus Vance pediu-me para persuadir Arafat a aceitar a Resolução 242 com uma reserva (aceite pelos EUA) a ser acrescentada pela OLP, que insistiria nos direitos nacionais do povo palestino bem como na autodeterminação palestina. Vance disse que os EUA reconheceriam imediatamente a OLP e inaugurariam negociações entre ela e Israel. Arafat recusou categoricamente a oferta, como fez com ofertas semelhantes. Então aconteceu a Guerra do Golfo, e por causa das posições desastrosas que então assumiu, a OLP perdeu ainda mais terreno. Os ganhos da intifada foram desperdiçados e hoje os defensores do novo documento dizem: «Não tínhamos alternativa.» A maneira correcta de enunciar é: «Não tínhamos alternativa porque perdemos ou deitámos fora muitas outras, deixando-nos apenas esta.»A fim de avançar em direcção à autodeterminação palestina — que só tem sentido se a liberdade, a soberania e a igualdade, e não a subserviência perpétua a Israel, for a sua meta —, precisamos de reconhecer honestamente onde estamos, agora que o acordo interino está prestes a ser negociado. O que é particularmente estranho é como tantos dirigentes palestinos e os seus intelectuais podem persistir em falar do acordo como uma «vitória». Nabil Shaath chamou-lhe um acordo de «completa paridade» entre israelitas e palestinos. O facto é que Israel não concedeu nada, como disse numa entrevista televisiva o ex-secretário de Estado James Baker, excepto, inocuamente, a existência da «OLP como representante do povo palestino». Ou como Amos Oz, uma «pomba» israelita, declarou durante uma entrevista à BBC, «é a segunda maior vitória da história do Sionismo».Pelo contrário, o reconhecimento por Arafat do direito de Israel a existir traz consigo toda uma série de renúncias: da Carta da OLP; da violência e do terrorismo; de todas as resoluções relevantes da ONU, excepto a 242 e a 338, que não têm uma palavra sobre os palestinos, os seus direitos ou aspirações. Implicitamente, a OLP pôs de lado numerosas outras resoluções da ONU (que, com Israel e os EUA, aparentemente agora está a procurar modificar ou rescindir) que, desde 1948, deram aos palestinos direitos de refugiados, incluindo ou compensação ou repatriação. Os palestinos tinham conquistado numerosas resoluções internacionais — aprovadas, entre outros, pela Comunidade Europeia, pelo movimento dos não-alinhados, pela Conferência Islâmica e pela Liga Árabe, bem como pela ONU — que anulavam ou censuravam os colonatos israelitas, as anexações e os crimes contra o povo sob ocupação.Pareceria, portanto, que a OLP acabou com a intifada, que corporizou não terrorismo ou violência mas sim o direito palestino de resistir, apesar de Israel continuar a ocupar a Cisjordânia e Gaza. A principal consideração no documento é a segurança de Israel, sem qualquer consideração pela segurança dos palestinos contra as incursões de Israel. Na sua conferência de imprensa de 13 de Setembro, Rabin foi directo acerca da continuação do controlo de Israel sobre a soberania; além disso, disse ele, Israel conservaria o rio Jordão, as fronteiras com o Egipto e a Jordânia, o mar, a terra entre Gaza e Jericó, Jerusalém, os colonatos e as estradas. O documento contém pouco que sugira que Israel vai desistir da sua violência contra os palestinos ou, como o Iraque foi obrigado a fazer depois de se retirar do Koweit, compensar aqueles que têm sido as vítimas da sua política nos últimos 45 anos.Nem Arafat nem nenhum de seus parceiros palestinos que se reuniram com os israelitas em Oslo alguma vez viram um colonato israelita. Existem agora mais de duzentos, principalmente em colinas, promontórios e pontos estratégicos em toda a Cisjordânia e Gaza. Muitos provavelmente murcharão e morrerão, mas os maiores são projectados para durar. Um sistema independente de estradas liga-os a Israel e cria uma incapacitante descontinuidade entre os principais centros da população palestina. A terra realmente ocupada por esses colonatos, mais a terra destinada a expropriação, equivale — supõe-se — a mais de 55% da área terrestre total dos Territórios Ocupados. Só a Grande Jerusalém, anexada por Israel, compreende uma enorme parcela de terras virtualmente roubadas, pelo menos 25% do total. Em Gaza, os colonatos no Norte (três), no meio (dois) e no Sul, ao longo da costa desde a fronteira egípcia, passando por Khan Yunis (12), constituem pelo menos 30% da Faixa. Além disso, Israel explorou todos os aquíferos na Cisjordânia e hoje usa cerca de 80% da água para os colonatos e para Israel propriamente dito. (Provavelmente há instalações de água similares na «zona de segurança» de Israel no Líbano.) Assim, a dominação (se não o roubo puro e simples) da terra e dos recursos hídricos é negligenciada, no caso da água, ou adiada pelo acordo de Oslo, no caso da terra.O que torna as coisas piores é que todas as informações sobre colonatos, terra e água estão na mão de Israel, que não partilhou a maioria desses dados com os palestinos, tal como não dividiu as receitas provindas dos impostos extraordinariamente altos que lhes impôs durante 26 anos. Foram criados pela OLP todo o tipo de comités técnicos (nos quais participaram palestinos não-residentes) nos territórios para examinar estas questões, mas há poucos indícios de que as conclusões dos comités (se as há) foram usadas pelo lado palestino em Oslo. Portanto, permanece por corrigir a impressão de uma enorme discrepância entre o que Israel conseguiu e aquilo que os palestinos concederam ou ignoraram.Duvido que tenha havido um único palestino que assistiu à cerimónia da Casa Branca que também não tenha sentido que um século de sacrifício, expropriação e luta heróica tinha acabado em nada. De facto, o que foi mais perturbador foi que Rabin de facto fez o discurso palestino enquanto Arafat pronunciou palavras que tinham todo o ar de um contrato de aluguer. Assim, longe de serem vistos como vítimas do sionismo, os palestinos foram caracterizados perante o mundo como os seus agressores agora arrependidos: como se os milhares de pessoas mortas pelos bombardeamentos israelitas a campos de refugiados, hospitais e escolas no Líbano; a expulsão de 800 000 pessoas por Israel em 1948 (cujos descendentes hoje somam cerca de três milhões, muitos deles apátridas); a conquista da sua terra e dos seus bens; a destruição de mais de quatrocentas aldeias palestinas; a invasão do Líbano; a devastação de 26 anos de ocupação militar brutal — foi como se esses sofrimentos tivessem sido reduzidos ao estatuto de terrorismo e violência, para serem retrospectivamente repudiados ou passados em silêncio. Israel sempre descreveu a resistência palestina como terrorismo e violência, de modo que, mesmo em termos de palavras, recebeu uma dádiva moral e histórico.Em troca exactamente do quê? O reconhecimento por Israel da OLP — sem dúvida, um avanço significativo. Para além disso, ao aceitarem que as questões da terra e da soberania estão a ser adiadas até às «negociações do estatuto final», os palestinos de facto ignoraram a sua reivindicação unilateral e internacionalmente reconhecida à Cisjordânia e a Gaza: estes tornaram-se agora «territórios em litígio». Assim, com a assistência dos palestinos, Israel recebeu uma pelo menos igual pretensão a eles. A previsão israelita parece ser que, ao concordar em policiar Gaza — um trabalho que Begin tentou dar a Sadat há quinze anos — a OLP logo seria alvo dos competidores locais, dos quais o Hamas é apenas um. Além disso, em vez de se tornarem mais fortes durante o período intermédio, os palestinos podem ficar mais fracos, mais sob a pata israelita, e, portanto, serem menos capaz de contestar as reivindicações israelitas quando o último conjunto de negociações começar. Mas sobre a questão de como, por que mecanismo específico, se passa de um estatuto intermédio para um posterior, o documento é propositadamente omisso. Significará isto, sinistramente, que o estatuto intermédio pode ser o final?Comentadores israelitas têm sugerido que dentro de, digamos, seis meses, a OLP e o governo de Rabin negociarão um novo acordo adiando ainda mais as eleições, permitindo assim que a OLP continue a governar. Vale a pena mencionar que pelo menos duas vezes durante o Verão passado Arafat disse que a sua experiência de governo consistia nos dez anos durante os quais ele «controlava» o Líbano, dificilmente um conforto para os muitos libaneses e palestinos que se recordam daquele período penoso. Também não existe, nesta altura, nenhuma maneira concreta de realizar eleições, ainda que elas fossem agendadas. A imposição de domínio de cima, mais o longo legado da ocupação, não contribuíram muito para o crescimento de instituições democráticas de base. Há relatos não confirmados na imprensa árabe indicando que a OLP já nomeou ministros do seu próprio círculo interno em Túnis, e vice-ministros de entre os residentes confiáveis da Cisjordânia e Gaza. Haverá instituições verdadeiramente representativas? Não se pode ser muito optimista, dada a absoluta recusa de Arafat de compartilhar ou delegar poder, para não falar dos activos financeiros que só ele conhece e controla.Tanto na segurança interna como no desenvolvimento, Israel e a OLP estão agora alinhados. Membros ou consultores da OLP têm se reunido com funcionários da Mossad desde Outubro do ano passado para discutir problemas de segurança, incluindo a própria segurança de Arafat. E isto na altura da pior repressão israelita dos palestinos sob a ocupação militar. A ideia por trás da colaboração é que isso irá dissuadir qualquer palestino de se manifestar contra a ocupação, que não se retirará, mas apenas se redistribuirá. Além disso, os colonos israelitas continuarão a viver, como sempre fizeram, sob uma jurisdição diferente. A OLP tornar-se-á, assim, a executora de Israel, uma perspectiva infeliz para a maioria dos palestinos. É interessante que o ANC se tenha recusado sistematicamente a fornecer ao governo sul-africano funcionários da polícia até que o poder fosse partilhado, precisamente para evitar aparecer como executor do governo branco. Foi noticiado em Amã há alguns dias que 170 membros do Exército de Libertação da Palestina, agora a serem treinados na Jordânia para o trabalho policial em Gaza, se recusaram a cooperar precisamente por esse motivo. Com cerca de 14.000 presos palestinos em prisões israelitas — alguns dos quais Israel diz que pode libertar — há uma contradição inerente, para não dizer incoerência, nos novos acordos de segurança. Haverá nelas mais espaço para a segurança palestina? O único assunto sobre o qual a maioria dos palestinos concorda é o desenvolvimento, que está senda ser descrito nos termos mais ingénuos que se possa imaginar. Espera-se que a comunidade mundial dê às áreas quase autónomas apoio financeiro em larga escala; espera-se que a diáspora palestina, que de facto já se está a preparar, faça o mesmo. No entanto, todo o desenvolvimento para a Palestina deve ser canalizado através do Comité Conjunto Palestino-Israelita de Cooperação Económica, embora, de acordo com o documento, «os dois lados cooperem conjunta e unilateralmente com as partes regionais e internacionais para apoiar esses objectivos». Israel é o poder económico e político dominante na região — e seu poder é, naturalmente, reforçado pela sua aliança com os EUA. Mais de 80% da economia da Cisjordânia e de Gaza depende de Israel, que provavelmente controlará as exportações palestinas, fabricação e mão-de-obra no futuro previsível. À parte a pequena classe média e empresarial, a grande maioria dos palestinos está empobrecida e sem terra, sujeita aos caprichos da comunidade manufactureira e comercial israelita que emprega os palestinos como mão-de-obra barata. A maioria dos palestinos, economicamente falando, quase certamente permanecerá como está, embora agora seja esperado que trabalhem em indústrias de serviços do sector privado, parcialmente controladas por palestinos, incluindo estâncias turísticas, pequenas fábricas de montagem, quintas e afins.Um estudo recente do jornalista israelita Asher Davidi cita Dov Lautman, presidente da Associação Industrial Israelita: «Não é importante se haverá um estado palestino, autonomia ou um estado palestino-jordano. As fronteiras económicas entre Israel e os territórios devem permanecer abertas.» Com as suas instituições bem desenvolvidas, estreitas relações com os EUA e uma economia agressiva, Israel na verdade incorporará economicamente os territórios, mantendo-os em um estado de dependência permanente. Então Israel voltar-se-á para o mundo árabe em geral, usando os benefícios políticos do acordo palestino como um trampolim para invadir os mercados árabes, que também explorará e provavelmente dominará.A enquadrar tudo isto estão os EUA, a única potência global, cuja ideia da Nova Ordem Mundial é baseada na dominação económica por algumas corporações gigantescas e pauperização, se necessário, de muitos dos povos menores (mesmo os de países colonizadores). A ajuda económica para a Palestina está a ser supervisionada e controlada pelos EUA, contornando a ONU, cujas agências, como a UNRWA e o PNUD, estão em muito melhores condições para a administrar. Considerem a Nicarágua e o Vietname. Ambos são antigos inimigos dos EUA; o Vietname, na verdade, derrotou os EUA, mas agora necessita da sua ajuda económica. Continua o boicote contra o Vietname e os livros de história estão a ser escritos de forma a mostrar como os vietnamitas pecaram e «maltrataram» os EUA pelo gesto idealista destes últimos de terem invadido, bombardeado e devastado o seu país. O governo sandinista da Nicarágua foi atacado pelo movimento Contra, financiado pelos EUA; os portos do país foram minados, o seu povo devastado pela fome, boicotes e todo tipo concebível de subversão. Após as eleições de 1991, que levaram ao poder uma candidata apoiada pelos EUA, a senhora Chamorro, os EUA prometeram muitos milhões de dólares em ajuda, dos quais apenas 30 milhões se materializaram. Em meados de Setembro, toda a ajuda foi cortada. Há agora fome e guerra civil na Nicarágua. Não menos infelizes foram os destinos de El Salvador e do Haiti. Lançar-se, como fez Arafat, nas ternas graças dos Estados Unidos, é quase certo sofrer o destino que os EUA reservaram aos povos rebeldes ou «terroristas» com os quais tiveram de lidar no Terceiro Mundo depois de estes terem prometido nunca mais resistir aos EUA.De mãos dadas com o controlo económico e estratégico dos países do Terceiro Mundo que possuem recursos como o petróleo que são necessários para os EUA, ou dos que lhes estão próximos, está o sistema de comunicação social, cujo alcance e controlo sobre o pensamento é verdadeiramente surpreendente. Durante pelo menos vinte anos, Yasser Arafat foi considerado o homem mais desinteressante e moralmente repulsivo do mundo. Sempre que aparecia na comunicação social, ou era nela discutido, era apresentado como se tivesse apenas um pensamento em mente: matar judeus, especialmente mulheres e crianças inocentes. Numa questão de dias, a «comunicação social independente» tinha reabilitado totalmente Arafat. Ele era agora uma figura aceite e até adorável, cuja coragem e realismo tinham conferido a Israel o seu devido direito. Ele tinha-se arrependido, tornou-se um «amigo», e ele e seu povo estavam agora do «nosso» lado. Quem quer que se opusesse ou criticasse o que ele tinha feita era um fundamentalista como os colonos do Likud ou um terrorista como os membros do Hamas. Tornou-se quase impossível dizer qualquer coisa, excepto que o acordo israelo-palestino — na sua maior parte não lido ou não examinado, e em qualquer caso obscuro, faltando-lhe dezenas de detalhes cruciais — foi o primeiro passo para a independência da Palestina.No que diz respeito ao crítico ou analista verdadeiramente independente, o problema é como é que ele se vai libertar do sistema ideológico que tanto o acordo como a comunicação social agora servem. O que é necessário é memória e cepticismo (se não total desconfiança). Mesmo que seja manifestamente óbvio que a liberdade palestina, em qualquer sentido real, não foi alcançada, e é claramente programada para não o ser, para além dos magros limites impostos por Israel e pelos EUA, o famoso aperto de mão transmitido para todo o mundo é suposto, não só simbolizar um grande momento de sucesso, mas também apagar realidades passadas e presentes.Se houvesse um mínimo de honestidade, os palestinos deveriam ser capazes de ver que a grande maioria das pessoas que a OLP é suposta representar não será realmente servida pelo acordo, senão cosmeticamente. É verdade que os habitantes da Cisjordânia e de Gaza estão contentes por ver que algumas tropas israelitas vão retirar e que grandes quantias de dinheiro podem começar a entrar. Mas é total desonestidade não estar alerta para o que o acordo implica em termos de mais ocupação, controlo económico e profunda insegurança. Depois, há o gigantesco problema dos palestinos que vivem na Jordânia, para não falar dos milhares de refugiados apátridas no Líbano e na Síria; os Estados árabes «amigos» sempre tiveram uma lei para os palestinos e uma para os nativos. Esses padrões duplos já se intensificaram, como testemunham as chocantes cenas de atrasos e perseguições que ocorreram na ponte Allenby desde o anúncio do acordo.Então, o que fazer, se é inútil chorar sobre o leite derramado? A primeira coisa é esclarecer, não apenas as virtudes de ser reconhecido por Israel e aceite na Casa Branca, mas também quais são verdadeiramente as maiores deficiências. Pessimismo do intelecto primeiro, depois optimismo da vontade. Não se pode melhorar uma situação ruim, que é em grande parte devida à incompetência técnica da OLP — que negociou em inglês, uma língua que nem Arafat nem seu emissário em Oslo conhecem, sem um consultor jurídico —, até que no nível técnico, pelo menos se envolvam pessoas que possam pensar por si e não sejam meros instrumentos do que é agora uma única autoridade palestina. Acho extraordinariamente desanimador que tantos intelectuais árabes e palestinos, que uma semana antes estavam a gemer e lamentar-se dos modos ditatoriais de Arafat, do seu controlo obstinado sobre o dinheiro, do círculo de bajuladores e cortesãos que o cercaram em Túnis nos últimos tempos, da ausência de responsabilidade e reflexão, pelo menos desde a Guerra do Golfo, tenham feito de repente uma viragem de 180 graus e começado a aplaudir o seu génio táctico e a sua última vitória. A marcha para a autodeterminação só pode ser empreendida por um povo com aspirações e objectivos democráticos. Caso contrário, não vale a pena o esforço.Depois de toda a excitação a celebrar «o primeiro passo em direcção a um Estado palestino», devemos lembrar-nos que muito mais importante do que ter um estado é que tipo de estado ele é. A história do mundo pós-colonial está desfigurada pelas tiranias de partido único, pelas oligarquias vorazes, pelo deslocamento social causado pelos «investimentos» ocidentais e pela pauperização em larga escala provocada pela fome, pela guerra civil ou pelo roubo total. Mais do que o fundamentalismo religioso, o mero nacionalismo não é e nunca poderá ser «a resposta» aos problemas das novas sociedades seculares. Infelizmente, já se pode ver no potencial Estado da Palestina as linhas de um casamento entre o caos do Líbano e a tirania do Iraque.Para que isso não aconteça, vários problemas específicos têm de ser abordados. Um deles é o dos palestinos da diáspora, que originalmente levaram Arafat e a OLP ao poder, os mantiveram lá, e agora estão relegados ao estatuto de exilados ou refugiados permanentes. Uma vez que eles representam pelo menos metade do total da população palestina, as suas necessidades e aspirações não são desprezáveis. Um pequeno segmento da comunidade exilada é representado pelas várias organizações políticas «hospedadas» pela Síria. Um número significativo de independentes (alguns dos quais, como Shafik al-Hout e Mahmoud Darwish, se demitiram da OLP em protesto) ainda têm um papel importante a desempenhar, não apenas aplaudindo ou condenando do lado de fora, mas defendendo alterações específicas na estrutura da OLP, tentando mudar o ambiente triunfalista do momento para algo mais apropriado, mobilizando apoio e construindo uma organização a partir das várias comunidades palestinas em todo o mundo para continuar a marcha rumo à autodeterminação. Estas comunidades ficaram singularmente desmobilizadas, sem chefias e indiferentes desde o início do processo de Madrid.Uma das primeiras tarefas é um recenseamento palestino, que deve ser considerado não apenas como um exercício burocrático, mas como a concessão do direito de voto aos palestinos onde quer que eles estejam. Israel, os EUA e os estados árabes — todos eles — sempre se opuseram a um recenseamento: isso daria aos palestinos um perfil demasiado alto em países onde eles deveriam ser invisíveis, e antes da Guerra do Golfo, isso teria deixado claro para os governos do Golfo como eles eram dependentes de uma comunidade «convidada» inadequadamente grande, geralmente explorada. Acima de tudo, a oposição ao recenseamento resultou da percepção de que, se os palestinos fossem contados todos juntos, não obstante a sua dispersão e desalojamento, eles, por esse mero exercício, estariam perto de constituir uma nação e não uma mera colecção de pessoas. Agora, mais do que nunca, o processo de realizar um recenseamento — e, talvez, mais tarde, eleições à escala mundial — deve ser um ponto prioritário na agenda dos palestinos em toda a parte. Constituiria um acto de auto-realização histórica e política fora das limitações impostas pela ausência de soberania. E daria corpo à necessidade universal de participação democrática, agora ostensivamente cerceada por Israel e pela OLP numa aliança prematura.Certamente, um recenseamento voltaria a levantar a questão do retorno dos palestinos que não são da Cisjordânia e de Gaza. Embora essa questão tenha sido condensada na fórmula geral de «refugiado» e adiada até às discussões sobre o estatuto final algures no futuro, ela tem que ser levantada agora. O governo libanês, por exemplo, tem vindo a intensificar publicamente a retórica contra a cidadania e a naturalização para os 350-400.000 palestinos no Líbano, a maioria dos quais é apátrida, pobre, permanentemente encalhada. Uma situação semelhante ocorre na Jordânia e no Egipto. Essas pessoas, que pagaram o preço mais alto de todos os palestinos, não podem ser deixadas a apodrecer nem despejadas noutro lugar contra a sua vontade. Israel é capaz de oferecer o direito de retorno a todos os judeus do mundo: qualquer judeu pode tornar-se cidadão israelita e ir morar em Israel em qualquer momento. Essa iniquidade extraordinária, intolerável para todos os palestinos há quase meio século, precisa de ser rectificada. Não se pode pensar que todos os refugiados de 1948 queiram ou possam voltar a um lugar tão pequeno como um Estado palestino; mas, por outro lado, é inaceitável para todos eles que lhes digam que têm que se reintegrar noutro lugar ou abandonar quaisquer ideias que possam ter sobre repatriação e compensação.Uma das coisas que a OLP e os palestinos independentes deveriam, portanto, fazer é levantar esta questão não abordada pelos Acordos de Oslo, antecipando assim as negociações do estatuto final - nomeadamente, pedir reparações para os palestinos que foram vítimas deste terrível conflito. Embora seja desejo do governo israelita (expresso muito energicamente por Rabin na sua conferência de imprensa em Washington) que a OLP feche «as suas chamadas embaixadas», essas representações devem ser mantidas selectivamente abertas para que aí possam ser apresentados pedidos de repatriação ou compensação.Em suma, precisamos sair do estado de indolente abjecção em que os Acordos de Oslo foram negociados («aceitaremos qualquer coisa, desde que vocês nos reconheçam») para um que nos permita levar a cabo acordos paralelos com Israel e com os Árabes relativos às aspirações nacionais palestinas, por oposição às aspirações paroquiais. Mas isso não exclui a resistência contra a ocupação israelita, que continuará indefinidamente. Enquanto existirem ocupação e colonatos, legitimados ou não pela OLP, palestinos e outros devem levantar a voz contra eles. Uma das questões não abordadas, seja pelos Acordos de Oslo, pela troca de cartas entre a OLP e Israel ou pelos discursos de Washington, é se a violência e o terrorismo renunciados pela OLP incluem a resistência não-violenta, a desobediência civil etc. Estes são direitos inalienáveis de qualquer povo a quem sejam negadas a soberania e a independência totais, e devem ser apoiados.Como tantos governos árabes impopulares e antidemocráticos, a OLP já começou a apropriar-se da autoridade chamando aos seus opositores «terroristas» e «fundamentalistas». Isso é demagogia. O Hamas e a Jihad Islâmica opõem-se ao acordo de Oslo, mas disseram várias vezes que não usarão violência contra outros palestinos. Além disso, a sua influência combinada equivale a menos de um terço dos cidadãos da Cisjordânia e de Gaza. Quanto aos grupos baseados em Damasco, eles parecem estar paralisados ou desacreditados. Mas isso de modo algum esgota a oposição palestina, que também inclui conhecidos secularistas, pessoas comprometidas com uma solução pacífica para o conflito palestino-israelita, realistas e democratas. Eu incluo-me nesse grupo que, acredito, é muito maior do que se supõe agora.Para o pensamento desta oposição é fundamental a necessidade desesperada de reformas dentro da OLP, que fica agora avisada de que os apelos redutores à «unidade nacional» já não são uma desculpa para a incompetência, corrupção e autocracia. Pela primeira vez na história da Palestina, tal oposição não pode, excepto por alguma lógica absurda e hipócrita, ser equiparada a traição. Na verdade, o que afirmamos é que somos contra o palestinismo sectário e a lealdade cega à liderança: continuamos comprometidos com os amplos princípios democráticos e sociais de responsabilidade e desempenho que o nacionalismo triunfalista sempre tentou anular. Acredito que irá emergir na diáspora uma oposição de base ampla à história de incompetência da OLP, mas que virá a incluir pessoas e partidos dos Territórios Ocupados.Por fim, há a questão confusa das relações entre israelitas e palestinos que acreditam na autodeterminação de dois povos, mútua e igualmente. As celebrações são prematuras e, para muitos judeus israelitas e não-israelitas, uma saída fácil para as enormes disparidades que subsistem. Os nossos povos já estão demasiado ligados uns aos outros por conflitos e uma história compartilhada de perseguições para que um «pow-wow» ao estilo americano possa curar as feridas e abrir o caminho a seguir. Continua a haver uma vítima e um algoz. Mas pode haver solidariedade na luta para acabar com as desigualdades e, para os israelitas, em pressionar o seu governo para acabar com a ocupação, a expropriação e os colonatos. Os palestinos, afinal, têm muito pouco que tenha sido deixado para dar. A batalha comum contra a pobreza, a injustiça e o militarismo deve agora ser levada a sério, e sem as exigências rituais de segurança psicológica para os israelitas — que, se não a têm agora, nunca a terão. Mais do que qualquer outra coisa, isso mostrará se o aperto de mão simbólico foi o primeiro passo para a reconciliação e a paz real.
Artigo publicado na London Review of Books em 21 de Outubro de 1993Os artigos assinados publicados nesta secção, ainda que, obrigatoriamente, alinhados com os princípios e objectivos do MPPM, não exprimem, necessariamente, as posições oficiais do Movimento sobre as matérias abordadas, responsabilizando apenas os respectivos autores.