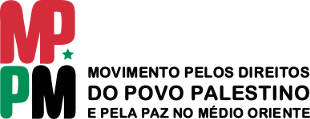Intervenção de Carlos Almeida - Concentração pela Palestina - Martim Moniz (Lisboa) - 17 Maio 2021

Aqui estamos, uma vez mais, desgraçadamente, como diz a canção, com «uma força a crescer-nos nos dedos / E uma raiva a nascer-nos nos dentes».
De cada vez, parece-nos, o paroxismo da violência israelita alcança limites que julgamos inultrapassáveis, mas a realidade aí está, sempre e uma vez mais, dramática, a mostrar-nos que, na doutrina militar de Israel, o excesso e a desproporcionalidade são a regra.
E não se diga que tudo começa e acaba em Netanyahu e na sua absoluta e patológica ambição e sede de poder em nome da qual todos os sacrifícios são aceitáveis.
Porque o actual ministro da guerra é Gantz, o carniceiro das ofensivas contra Gaza de 2012 e de 2014 e que muito do comentariado oficial apresentou em tempos como a recta e impoluta alternativa ao lodaçal de corrupção e nepotismo em que Netanyahu está mergulhado.
Porque antes deles foi Ehud Barak e Ehud Olmert, e antes deles Sharon, e antes dele Peres e Rabin, e antes deles Shamir e Begin, numa genealogia longa que faz dos extremistas de hoje os moderados de amanhã, escrita em brasa e chumbo na carne e na alma do povo palestino, e que se projecta até Ben Gurion e ao princípio e ao fim de tudo, a Nakba, a brutal e gigantesca limpeza étnica da Palestina de cujos episódios derradeiros somos hoje testemunhas.
A preguiça intelectual, a ignorância, o simplismo, o carreirismo, a sabujice ou a má-fé que fazem escola nos grandes meios de comunicação social podem não conhecer ou fingir que ignoram, podem até ocultar e distorcer, mas nós sabemos, o povo palestino sabe, oh como sabe, que a tragédia que se desenrola diante nós, tem uma história longa de um século e que se inscreve no próprio projecto sionista.
E que essa história começou, não em Gaza, não em Jerusalém, mas em Londres, na decisão de um ministro britânico que prometeu um pedaço de terra sobre o qual não exercia qualquer soberania, a uma organização europeia que a ela não tinha nenhum direito, ignorando a presença física, a história e a voz do povo que ali vivia, com raízes fundas plantadas naquela terra.
Não devia ser necessária esta pequena evocação para se captar a densidade histórica dos acontecimentos que se desenrolam na Palestina por estes dias. Porque, desta vez, é por demais evidente que a sua origem não está em Gaza, ainda que ali se concentrem os ecos fundos desta história trágica.
Foi em Jerusalém, na metade da cidade ocupada em 1967 que tudo começou. Nas barragens impostas pelo exército israelita que impediram o acesso e a circulação na cidade velha durante o Ramadão e, depois, na brutal incursão armada na esplanada das mesquitas – é preciso que se diga, uma e outra vez, em violação aberta dos tratados internacionais que regulam o acesso àquele lugar – e a brutal repressão que se lhe seguiu que rapidamente ultrapassou os 500 feridos, muitos deles com danos irreversíveis provocados por balas disparadas deliberadamente à cabeça dos que ali se reuniam para as orações.
Mas, também, nas ameaças de despejo sobre as famílias de Sheik Jarrah, vítimas, não de uma vulgar litigância judicial sobre a propriedade das suas casas como diz a propaganda de Israel, mas de um sistema legislativo, administrativo e judicial segregacionista, estruturado em função da discriminação da população palestina e organizado para legitimar o roubo de terras e casas, a expropriação de bens, a expulsão continuada da população palestina de Jerusalém.
Aos que, por cá, repetem a ladainha sobre «a democracia do Médio Oriente» e a alegada independência dos tribunais para julgar disputas de propriedade, não ocorre, sequer, que Jerusalém Oriental é território ocupado, que a IV Convenção de Genebra proíbe liminarmente qualquer alteração física ou demográfica promovida pela potência ocupante em território ocupado e que, portanto, os tribunais de Israel, quaisquer que sejam, a que título for, não têm jurisdição, nem sequer legitimidade para dirimir qualquer assunto naquele território.
E depois de Jerusalém, a revolta e a repressão brutal alastrou a toda a Margem Ocidental do rio Jordão e, para espanto de muitos, ao território palestino incluído no Estado de Israel segundo as fronteiras do armistício de 1949, à Faixa de Gaza.
«Violência sectária» ou «conflitos inter-étnicos», chamaram-lhe muitos, atordoados com a explosão de uma realidade que deliberadamente ocultam ou que ignoram, mas que se recusam a admitir: que Israel é um estado de apartheid, que, ao contrário de uma democracia, é um estado baseado na limpeza étnica e na discriminação da população palestina, aprisionada num estatuto de semi-cidadania para onde é remetida por um aparelho normativo que conta mais de 65 leis que os diferenciam e menorizam em relação a todos os que, em qualquer parte do mundo onde se encontrem, reclamem uma filiação judaica.
As milícias de colonos que percorrem os bairros palestinos em Lydd, em Haifa ou em Jaffa, que semeiam o terror nas ruas, que lançam tochas incendiárias para dentro das casas das famílias palestinas, que promovem linchamentos públicos, trazem-nos à memória a acção dos grupos sionistas paramilitares, com destaque particular para o Irgun e o Stern que, há gerações atrás, sob a protecção do exército britânico, percorreram muitas daquelas mesmas ruas, chacinando e provocando o êxodo da população palestina que haveria depois de encher os campos de refugiados em redor.
Essas milícias não são apenas «extremistas», como insiste a propaganda e como reproduzem, por cá, os seus porta-vozes, antes constituem um braço do aparelho repressivo de Israel, uma outra face da sua brutalidade, porque agem sob a protecção e quase sempre em articulação com as suas forças militares.
E é assim que chegamos a Gaza, sempre Gaza, essa estreita língua de terra nas margens do nosso Mar Mediterrâneo.
Hoje, como ontem, a mais bestial brutalidade de um dos mais poderosos exércitos do mundo abate-se com todo o seu poderio destruidor sobre uma população indefesa, enclausurada sob um bloqueio criminoso, num território que, dizem as Nações Unidas, há muito deixou de ser sustentável para suportar a vida humana.
Talvez isso não seja claro para muitos, mas os dois milhões de pessoas que vivem em Gaza são, na sua esmagadora maioria, os homens e mulheres palestinos e os seus descendentes que foram expulsos das suas casas em Lydd, em Haifa, e nas cerca de 5 centenas de vilas e aldeias apagadas do mapa durante a Nakba e que ali chegaram, em alguns casos depois de, após 1948, novamente terem enfrentado o êxodo na sequência da guerra de 1967.
Como se não bastasse essa memória viva dos massacres, da errância, de ruptura dos laços familiares, do desenraizamento, como se não fosse suficiente a humilhação do bloqueio criminoso num lugar que já foi descrito como a maior prisão a céu aberto do mundo, é para elas que se reserva a bestialidade mais desabrida, a violência mais inclemente, a brutalidade mais indiscriminada.
A macabra contabilidade deste genocídio – porque é disso que se trata, sob qualquer ponto de vista – estará acima dos 200 mortos, na sua maioria, mulheres e crianças e mais de 1300 feridos.
E, insaciável, a máquina de guerra de Israel proclama, com alarde, que vai continuar, mais forte ainda, pelo tempo que do alto da sua indisputável impunidade entender prosseguir, a flagelar o povo palestino da faixa de Gaza.
No meio de toda esta chacina, ouvir Biden, o Governo português – agora na Presidência do Conselho de União Europeia – os comentadeiros, repetirem que «Israel tem o direito de defender-se» é insuportável, é um insulto à inteligência, um ultraje.
Digam-nos, então: quem protege o povo palestino? Quem protege as crianças de Gaza, os jovens de Hebron, as famílias de Sheik Jarrah ou de Silwan, os jovens do campo de refugiados de Jabalia, as famílias de Lydd ou de Haifa? Quem as protege? Sim, quem?
Diga-nos, senhor primeiro-ministro, diga-nos: quantas mais famílias têm que morrer soterradas nos escombros de Gaza, quantas mais escolas e instalações civis têm que ser bombardeadas, quantos mais jovens têm que perder a visão ou as pernas, quantas mais famílias têm que ser despejadas das suas casas e abandonadas na rua, até quando as crianças têm que ser amedrontadas no caminho para a escola, quantos mais jovens têm que ser arrancados de suas casas na calada da noite para serem encarcerados, por tempo indeterminado, sem acusação, sem culpa formada, sem assistência de um advogado, por quanto mais tempo os homens e mulheres têm que ser humilhados nos check-points do exército israelita para que a mais singela piedade se apodere de vós ao ponto de reconhecerem que, sim, que estes também são gente, homens e mulheres que têm direito a serem protegidos de uma ocupação que os aniquila como povo, e a viverem a sua vida em paz e liberdade, na terra que foi dos seus tetra-avós?
Diga-nos senhor Primeiro-Ministro, senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, quantas mais oliveiras têm que ser queimadas, quantas mais casas arrasadas, para que reconheçam que a Palestina, que em toda a Palestina, há uma limpeza étnica a acontecer vai para um século e que quem é submetido a tamanha provação tem direito à protecção que a lei internacional e as resoluções das Nações Unidas lhe reconhecem?
O que falta, o que está disponível a aceitar o Governo português, até onde pode ir a sanha criminosa de Israel, para que se disponha, ao menos, a chamar o embaixador desse país, para lhe exigir explicações e reclamar o fim dos bombardeamentos e da repressão do povo palestino e o respeito e observância do direito internacional?
Diga-nos, senhor primeiro-ministro, precisamos de saber, os que aqui estamos, filhos da Revolução dos Cravos, que nascemos da memória da luta contra o fascismo e contra o colonialismo, diga-nos, quantas mais crianças palestinas têm que morrer para que seja capaz de reconhecer que, como qualquer outro povo, em qualquer momento da história, os palestinos têm direito a resistir à opressão a que há décadas estão sujeitos, que se nada no mundo se levanta em seu apoio, além da voz dos povos, que se nada lhes vale nem mesmo a lei e o direito internacional, se as resoluções das Nações Unidas são ignoradas por quem tinha o dever de as fazer cumprir, ao povo palestino não resta outro caminho que não seja resistir, com as forças e os meios que têm ao seu alcance e que nada nem ninguém tem a autoridade moral para questionar esse direito elementar, que é constitutivo da condição humana, de resistir à ignomínia, de fazer frente à injustiça e à repressão, e de lutar pela liberdade, até ao limite das suas forças.
Sim, caras amigas e caros amigos, precisamos libertar-nos do condicionamento ideológico a que nos querem remeter, os que afirmamos, sem reservas nem hesitações, a nossa solidariedade de sempre com a causa do povo palestino.
O povo palestino é vítima, sim, martirizado e sofrido como poucos, mas nunca, em nenhum momento, deixou de ser actor da sua própria história.
Há bem pouco, muitos proclamavam como finda e enterrada a causa palestina, enxotada para debaixo do tapete da história, no lugar para onde se varreram as mil injustiças do passado de que somos herdeiros.
Tantos teorizavam sobre a irrelevância da questão palestina, da sua subalternidade em relação às prioridades da agenda internacional. Muitos, aproveitando e tirando partido das vicissitudes do processo político palestino, sentenciaram o fim desta luta secular pela liberdade e a independência.
Mas, eis que dos becos do desespero, dos impasses da luta, das pequenas batalhas pela dignidade de que é feito o seu quotidiano, quantas vezes, do fundo da dor mais funda e sofrida, o povo palestino se ergue como um só perante o ocupante, um corpo único que irrompe coeso e unido, do mar ao rio, das cidades aos campos de refugiados, dos campos às escolas, por sobre décadas de confinamento e uma política sistemática, visando desarticular a sua consciência nacional.
Não é a primeira vez que tal acontece nesta tão longa caminhada, mas talvez já poucos acreditassem ser possível outra vez. Devíamos saber, temos a obrigação de saber, que a luta dos povos pela sua emancipação é imparável e que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre descobre novos caminhos para reinventar a esperança.
Com sofrimento, é certo, com uma incontável dor e um inimaginável sofrimento, o povo palestino ousa, com o sacrifício da sua luta, rasgar novos horizontes para a sua jornada.
Não é mais possível ignorar. Setenta e três anos depois, a resistência do povo palestino, um dedo acusador apontado à consciência do mundo, em todos os lugares onde se exprime, afirma que não esquece a injustiça histórica de que continua a ser alvo, e que continua a luta, que não se submete nem não se rende, e que é a sua determinação e só ela que marca o curso da sua história.
Sejamos nós, homens e mulheres do Portugal de Abril, dignos desse exemplo porque todos somos chamados. Que se desiludam os que acham que a Palestina está lá longe.
É bom que percebam que, se em França, na pátria da Liberdade, Igualdade e Fraternidade, são proibidas as manifestações de solidariedade com a causa palestina, é porque, também, a nossa própria liberdade que está ameaçada.
Sejamos nós capazes de construir, de alargar e de reforçar um amplo movimento de solidariedade em Portugal com a causa do povo palestino, uma torrente de homens e mulheres de boa vontade que exija do Governo Português que cumpra a Constituição, que se pronuncie de forma clara e sem ambiguidades, em defesa do que é ocupado contra o que é ocupante, do que é oprimido contra o opressor, do agressor contra a vítima, uma torrente activa, unida em torno da bandeira palestina e da exigência do reconhecimento por Portugal de um Estado palestino com Jerusalém Leste como capital e o reconhecimento do direito ao retorno ou à justa compensação para os refugiado palestinos.
Pela nossa parte, continuaremos o nosso trabalho, comprometidos em dar o nosso contributo para essa caminhada. Amanhã mesmo, pelas 18.30h, realizaremos uma sessão debate na Casa do Alentejo, a partir das 18.30h, que estava já programada antes mesmo do agravamento da situação. E outras iniciativas certamente se seguirão.
Em nome do MPPM, queremos saudar as organizações que connosco partilham esta convocatória, a CGTP – uma central sindical que tem sempre presente na sua acção que a luta pelos direitos dos trabalhadores é indissociável da luta pela liberdade dos povos – e o CPPC – cujo contributo histórico para a solidariedade com a Palestina é insubstituível.
Saudamos igualmente todas as pessoas e colectivos que contribuíram para divulgar o apelo para esta concentração e reiteramos a nossa disposição para juntar esforços e energias.
Saudamos a presença de todas e de todos e apelamos para que a luta continue a solidariedade se reforce. Todas e todos temos responsabilidades, todas e todos estamos implicados nas causas que fazem o nosso tempo, e ai de nós se não as travarmos.
Permitam-me, por fim, que dirija uma saudação final, muito fraterna e sentida, às amigas e amigos palestinos que estão connosco e que nos acompanham neste acto. Daqui vos expressamos um voto sentido para que os vossos familiares e amigos na Palestina, onde quer que se encontrem, estejam em segurança, tanto quanto isso é possível.
E pedimos-vos para que lhes transmitam que, cá deste lado do Mediterrâneo que é o berço da nossa cultura comum, há um povo solidário que sente a luta que travam como a sua própria luta, e que continuaremos determinados a cumprir o que entendemos ser o nosso papel, o nosso contributo solidário: fazer com que Portugal se afirme no plano internacional, de forma inequívoca, contra a ocupação e solidário com o direito do povo palestino à liberdade, à independência, à autodeterminação, à justiça e à paz.
Viva o Povo Palestino!
Palestina vencerá!