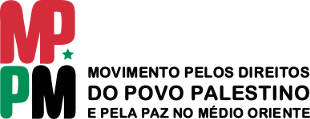«Em Israel, as três dimensões de uma deriva fascizante», por Dominique Vidal
Artigo publicado em Orient XXI em 10 de Julho de 2018
Muitos leitores do Le Monde terão ficado surpreendidos ao descobrir uma comparação, da autoria do historiador Zeev Sternhell, eminente especialista do fascismo, entre Israel de hoje e a Alemanha dos primórdios do nazismo. É que a maioria dos principais meios de comunicação social acompanhou muito pouco a inquietante radicalização da coligação de direita e extrema-direita que dirige Israel desde 2015.
Este fenómeno comporta três dimensões principais.
O Estado-nação do povo judeu
A primeira e principal dimensão diz respeito ao projecto colonial na Palestina, que está a passar por uma viragem histórica. Até agora as autoridades israelitas, incluindo Benyamin Netanyahu desde o seu famoso discurso de 2009, fingiam aceitar a chamada perspectiva «dos dois Estados». É verdade que aceleravam a colonização — o diário israelita Haaretz deu no ano passado o número de 700 000 colonos judeus, 470 000 na Cisjordânia e 230 000 em Jerusalém Oriental —, mas formalmente mantinham uma desfocagem artística em torno do estatuto dos territórios ocupados.
Numa escalada verbal, estimulados pela previsível sucessão de Netanyahu, os outros principais dirigentes da coligação impuseram uma mudança de rumo. O ministro da Educação e da Diáspora e líder do partido Lar Judaico, Naftali Bennett, repete incansavelmente: «O caminho das concessões, o caminho da divisão, falhou. Temos de dar as nossas vidas pela anexação da Cisjordânia.» E já juntou os actos à palavra, fazendo o Parlamento votar uma lei nesse sentido, em 6 de Fevereiro de 2017. Este texto legaliza retroactivamente uma série de «postos avançados» (colonatos até então ilegais mesmo à luz do direito israelita), permitindo o confisco de terras privadas palestinas e abrindo assim o caminho ao alargamento da soberania israelita sobre a Área C, que representa mais de 60% da Cisjordânia, ou mesmo sobre toda a Cisjordânia. Essa chamada lei de «regularização», chamada «lei dos ladrões» por Benny Begin, o filho do antigo primeiro-ministro, de momento está congelada pelo Supremo Tribunal. Mas o próprio Supremo Tribunal está a ser alvo dos ataques do governo, que quer modificar a sua composição e reduzir as suas prerrogativas.
Qualificado como «fascista» pelo antigo primeiro-ministro Ehud Barak, o Lar Judaico, ultranacionalista, reivindica a herança do Partido Nacional Religioso, que foi sempre, juntamente com o Bloco dos Crentes (Guch Emunim), o coração do movimento de colonização. Embora tenha apenas oito deputados e quatro ministros, conseguiu que aderissem à sua lei sessenta deputados, incluindo a quase totalidade dos do Likud, apesar de o líder deste, o primeiro-ministro Benyamin Netanyahu, lhes ter pedido insistentemente para se oporem. É preciso dizer que em finais de 2017 até o Comité Central do Likud se pronunciou pela concretização da anexação da Cisjordânia.
Um outro texto prevê a anexação de cinco blocos de colonatos situados a leste de Jerusalém, impedindo deste modo que Jerusalém Oriental se torne a capital de um Estado palestino. Mas ele necessita ainda, segundo Netanyahu, de uma «preparação diplomática». Entretanto, o Parlamento adoptou, mais uma vez por proposta de Bennett, uma emenda à Lei de 1980 sobre Jerusalém. Eleva de 61 deputados para 80 (em 120) a maioria necessária para qualquer retorno de partes da cidade à soberania palestina. E permite remover bairros palestinos situados fora do Muro para os converter em «entidades separadas» cujos habitantes já não seriam «residentes».
«Se fosse concretizada, a manipulação dos limites do município de Jerusalém reduziria o número dos residentes palestinos de Jerusalém em quase 120 000 e acrescentaria 140 000 colonos israelitas, reduzindo assim a proporção da população palestina de Jerusalém para 20% (de 37% hoje)», estima o relatório anual, mantido secreto, dos cônsules da União Europeia em Jerusalém, segundo o jornalista René Backmann.
Por outras palavras, para além das suas rivalidades, os construtores do «Grande Israel» decidiram, violando abertamente cinquenta anos de resoluções das Nações Unidas, enterrar a chamada solução «dos dois Estados» em favor de um só Estado: um Estado de apartheid, em que os palestinos anexados não gozariam de direitos políticos, a começar pelo direito de voto. É verdade que, segundo os demógrafos, a Palestina histórica conta hoje mais ou menos tantos árabes como judeus: cerca de 6,6 milhões…
A nova lei fundamental que está em processo de aprovação no Parlamento simboliza essa vontade. A de 1992 definia Israel como um «Estado judaico e democrático»: o projecto votado em primeira leitura fala de «Estado-nação do povo judeu». E especifica: «O direito de exercer a autodeterminação nacional no seio do Estado de Israel pertence apenas ao povo judeu.» Além disso, priva o árabe do seu estatuto de «língua do Estado», reservado ao hebraico.
Um arsenal liberticida
Os líderes da extrema-direita também fazem avançar a sua causa através de provocações retumbantes. A ministra da Justiça, Ayelet Shaked, não hesitou, durante a última guerra de Gaza, em publicar na sua página do Facebook um texto que qualificava o «conjunto do povo palestino» como «inimigo de Israel» e justificava assim «a sua destruição, incluindo os seus velhos, as suas mulheres, as suas cidades e as suas aldeias» [1]. Por seu lado, Naftali Bennett preconizou que se matasse todos os «terroristas» presos em vez de os meter na cadeia. E explicava: «Eu matei muitos árabes, não tenho problema nenhum com isso.» Quanto a Avigdor Lieberman, afirma que «os israelitas árabes não têm lugar aqui. Eles podem pegar nas suas trouxas e desaparecer», acrescentando: «Aqueles que estão contra nós merecem ser decapitados à machadada.» Propõe mesmo transportar os presos palestinos «até ao mar Morto para os afogar»…
Mas estes extremistas sabem que a sua fuga para a frente poderia provocar, a prazo, reacções negativas da opinião pública. Embora a ausência de alternativa à esquerda tenha empurrado os israelitas cada vez mais para a direita, esta evolução tem (ainda?) limites: segundo um estudo de opinião, metade dos entrevistados não consideram «sensato» prosseguir a colonização da Cisjordânia e 53% opõem-se à sua anexação [2]. É isso sem dúvida que explica a segunda dimensão da radicalização da actual coligação: o arsenal liberticida que fez votar pelo Parlamento desde o início da década. Só para o caso de… Na caixa abaixo, as peças mais salientes:
● uma lei proíbe qualquer apelo ao «boicote de uma pessoa devido às suas ligações com Israel ou regiões sob o controlo de Israel» (2011);
● uma outra priva de subvenções estatais as organizações, instituições ou municípios que comemorem a Nakba, a expulsão de 800 000 palestinos em 1948 (2011);
● o mesmo texto estabelece «comissões de admissão» para decidir se uma pessoa ou pessoas que vêm instalar-se numa localidade ou cidade são «apropriadas» (2011);
● uma emenda à lei fundamental sobre o governo eleva para 3,25% o limiar mínimo abaixo do qual um partido político não pode estar representado no Parlamento (2014);
● uma lei obriga as ONGs a declararem várias vezes por ano os subsídios provenientes de governos estrangeiros, se representarem mais de metade do seu orçamento [3] (2016);
● único no mundo, um texto permite que 90 deputados (num total de 120) expulsem outros do Parlamento, por incitamento, racismo ou apoio à luta armada (2016);
● uma outra peça legislativa concede ao Estado poderes excepcionais contra «organizações terroristas» em Israel, incluindo os seus «membros passivos». Autoriza o ministro da Defesa a confiscar sem julgamento os bens dos membros dessas organizações (2016);
● uma lei permite a prisão a partir dos 12 anos de menores acusados de vários crimes violentos (2016);
● uma legislação autoriza Israel a repelir nas suas fronteiras as pessoas ou os representantes de empresas, fundações ou associações que apelem ao boicote (2017). Uma lista de vinte ONGs banidas foi até publicada no início de 2018;
● uma outra lei, proposta por Bennett e votada em primeira leitura, permite ao ministro da Educação proibir que as associações que denunciam o exército — ou seja, a Breaking the Silence, que faz campanha contra a violência do exército israelita nos territórios ocupados — intervenham em estabelecimentos de ensino (2017);
● destinada a proteger Benyamin Netanyahu, uma legislação proíbe a polícia de informar o Ministério Público da existência de motivos de acusação em investigações sobre personalidades públicas (2017);
● uma lei autoriza o ministro do Interior a revogar o direito de residência em Jerusalém de palestinos suspeitos de «deslealdade» para com o Estado (2018);
● quase totalitária, a lei mais recente permite que o primeiro-ministro e o ministro da Defesa declarem a guerra sozinhos, sem consultarem o gabinete de segurança ou, por maioria de razão, o governo (2018).
Aliança com a extrema-direita europeia
Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és: Netanyahu recruta os seus melhores amigos — é esta a terceira dimensão da radicalização da sua coligação — entre os piores populistas europeus. Como Viktor Orbán, o primeiro-ministro húngaro, liquidador das liberdades húngaras, islamofóbico e anti-semita. O líder do Likud nem sequer manifestou o menor prurido quando soube que, alguns dias antes do seu encontro de Julho de 2017, o seu anfitrião tinha feito uma apologia do regente (1920-1944) Miklós Horthy, o Pétain húngaro, cujos sucessores ajudaram Adolf Eichmann a deportar e assassinar 430 000 judeus húngaros. Netanyahu também namora com Jaroslaw Kaczyński, apesar de este ser o inspirador de uma lei que proíbe evocar os — numerosos — colaboradores polacos do ocupante: já em 1970 o historiador Szymon Datner estimou que eles mataram 200 000 judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Esse texto negacionista, que desencadeou várias manifestações abertamente anti-semitas no país, provocou um tal escândalo que Varsóvia teve de recuar. Mas Yehuda Bauer, o principal historiador israelita da Shoah, qualificou a declaração de Netanyahu-Morawiecki de «traição estúpida, ignorante e amoral da verdade histórica sobre a implicação polaca no Holocausto».
Os pretextos diplomáticos avançados para justificar estas ligações perigosas não podem explicar a aproximação entre Israel e os partidos de extrema-direita da Europa Ocidental. Já em Dezembro de 2010, três dezenas de dirigentes de extrema-direita — incluindo o holandês Geert Wilders, o belga Philip Dewinter e o sucessor de Jörg Haider, o austríaco Heinz-Christian Strache — visitaram Israel, sendo recebidos com as honras devidas aos convidados de marca. Nessa altura, o vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros, Avigdor Lieberman, que sonha em limpar dos seus muçulmanos um Estado que ele quer exclusivamente judaico, conversou calorosamente com Wilders, o qual sonha em proibir o Alcorão nos Países Baixos. Wilders chegou mesmo a visitar um colonato judaico na Cisjordânia, onde, revelou a AFP, «se pronunciou contra a restituição de territórios em troca de paz com os palestinos, propondo a instalação “voluntária” dos palestinos na Jordânia». Para ele, os colonatos constituem «pequenos bastiões da liberdade, desafiando forças ideológicas que negam não apenas a Israel, mas a todo o Ocidente, o direito de viver em paz, dignidade e liberdade».
Mais recentemente, o Likud enviou um dos seus deputados, Yehuda Glick, encontrar-se com o Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), fundado por Jörg Haider após o seu regresso ao governo austríaco. E podemos apostar que ele também contactará a Liga, vencedora, com o Movimento Cinco Estrelas, das últimas eleições legislativas italianas. Só permanece non grata em Israel a formação de Marine Le Pen; mas o seu companheiro, Louis Alliot, já visitou o país.
Nesta radicalização há algo do hubris grego, uma mistura de vertigem, orgulho e desmesura, contra a qual os deuses exerciam a sua vingança. Netanyahu e os seus aliados-rivais acreditam que tudo lhes é permitido porque pensam que têm nas mãos quatro ases. Primeiro ás, Donald Trump, o presidente estado-unidense mais pró-israelita da história, apoiado nomeadamente por dezenas de milhões de evangélicos. Após a transferência da sua embaixada para Jerusalém, ele vai sem dúvida reconhecer a anexação do Golã e talvez até apoiar uma aventura israelita contra Teerão. Em resumo, ele não recusará nada a Tel Aviv. O segundo ás é Mohamed Ben Salman, o príncipe herdeiro saudita, que decidiu abandonar abertamente a causa palestina para se aliar a Washington e Tel Aviv contra o Irão. O terceiro ás são Mahmoud Abbas e Yahya Sinwar, os irmãos inimigos palestinos incapazes de superar as divisões entre a Fatah e o Hamas, proporcionando assim a Israel um trunfo de primeira ordem. Finalmente, quarto ás, as guerras da Síria, do Iraque, do Iémen e da Líbia, que marginalizam a questão da Palestina, outrora central.
Silenciar todas as críticas
Netanyahu e os seus aliados-rivais sabem que a sua fuga para a frente só poderá acentuar, a prazo, o isolamento internacional do governo israelita. O Estado da Palestina já entrou na Unesco (2011), nas Nações Unidas (2012) e no Tribunal Penal Internacional (2015). E no final de 2017 a Assembleia Geral votou pelo direito do povo palestino à autodeterminação e a um Estado por 176 votos a favor, 7 contra (Canadá, Estados Unidos, Israel, Ilhas Marshall, Estados Federados da Micronésia, Nauru e Palau) e 4 abstenções (Camarões, Honduras, Togo, Tonga). Nos inquéritos de opinião mundiais sobre a imagem dos diferentes Estados, desde há uns quinze que Israel chega no pelotão traseiro, com a Coreia do Norte, o Irão e o Paquistão.
É por isso que o governo israelita se esforça por silenciar as críticas à sua política. Daí a sua vontade de criminalizar a campanha Boicote-Desinvestimento-Sanções (BDS), qualificada como «ameaça estratégica relevante» por Netanyahu, que a combate com uma organização recentemente dotada de 72 milhões de dólares. A esta primeira operação junta-se desde há dois anos uma segunda, visando proibir o anti-sionismo, assimilado ao anti-semitismo. Apoiando-se numa pequena frase de Emmanuel Macron na comemoração da rusga do Vel’ d’Hiv [4], o presidente do Conselho Representativo das Instituições Judaicas de França (CRIF) exige, por exemplo, uma lei nesse sentido, a partir de uma «definição» do anti-semitismo elaborada por um lobby, a Internacional Holocaust Remembrance (IHRA).
Tudo isto coloca uma questão de vocabulário, obviamente política. Tratando-se de outro país qualquer, uma evolução como a de Israel desde há alguns anos seria qualificada como fascização. É claro que as comparações não explicam tudo. Mas como esquecer que, embora a corrente de que provém Benyamin Netanyahu — o sionismo revisionista de Vladimir Zeev Jabotinsky — não se reclamasse do fascismo, Benito Mussolini se reclamava de Jabotinsky? «Para que o sionismo tenha êxito», confidenciou o Duce em 1935 a David Prato, futuro rabino-chefe de Roma, «precisais de um Estado judaico, com uma bandeira judaica e uma língua judaica. A pessoa que verdadeiramente entende isso é o vosso fascista, Jabotinsky.» [5]. Acaso ou premonição? Ben-Zion Netanyahu, o pai de Benyamin, serviu de secretário a Jabotinsky. Tal pai, tal filho!
[1] Le Parisien, 12 de Maio de 2015. A página do Facebook arquivada encontra-se aqui.
[2] Mas apenas 24% pensam que os palestinos deveriam, em caso de anexação, gozar do direito de voto, havendo 30% que encaram um estatuto de «residente»: Instituto da Democracia de Israel (IDI), 8 de Fevereiro de 2017.
[3] Portanto, escapam a essa obrigação as associações de direita e de extrema-direita, que no entanto são financiadas por fundações judaicas americanas extremistas.
[4] Maior detenção em massa de judeus em França durante a Segunda Guerra Mundial, realizada por ordem do governo francês de Vichy. Em 16 e 17 de Julho de 1942, mais de 13 000 pessoas foram presas em Paris e arredores para serem deportadas, a maior parte das quais ficaram encerradas no Velódromo de Inverno de Paris. Menos de cem sobreviveram à deportação. (N. do T.)
[5] Citado por Lenni Brenner, Zionism in the Age of the Dictators, Croom Helm, Londres e Canberra, 1983.
Os artigos assinados publicados nesta secção, ainda que, obrigatoriamente, alinhados com os princípios e objectivos do MPPM, não exprimem necessariamente as posições oficiais do Movimento sobre as matérias abordadas, responsabilizando apenas os respectivos autores.
Segunda, 30 Julho, 2018 - 22:03